A sessão A que pais têm os filhos direito? começou com um dos sete filmes da série All the Invisible Children lançada pela UNICEF. Abriu-nos os olhos e o coração, e lançou o mote.
Em traços gerais, o Dr. Biscaia começou por recordar o valor que foi sendo dado às crianças ao longo da História.
Assim, muitas vezes subvalorizados, os filhos eram propriedade dos pais até atingirem a maioridade. Nasciam frequentemente para cumprir os objectivos que os seus pais traçavam de antemão, quer fosse a gestão do seu património, como herdeiros, quer o trabalho no campo, como um bom par de braços. Sociedades houve em que um pai podia matar legalmente um filho, tal era o seu poder sobre ele.
Assim, os filhos até podiam ser desejados como pessoas importantes, mas muitas vezes porque vinham cumprir o destino que os pais imaginavam e lhes impunham.
Outro aspecto referido era o da elevada mortalidade infantil, que conferia às crianças uma fragilidade que uma taxa de natalidade maior parecia tentar compensar. As crianças eram vistas como substituíveis, e portanto, menos valoráveis.
A criança sujeito de direitos, protegida pela sociedade, que a deve ajudar a desenvolver e crescer em harmonia, é uma visão supreendentemente recente, mas é inegável a sua crescente propagação e defesa.
Contudo, há ainda muitas situações actuais que nos continuam a questionar "A que pais têm os filhos direito?"
Assim, foram enfatizados os direitos básicos da criança, do ponto de vista do Dr. Jorge Biscaia:
Direito a ser amado. - que é diferente de ser querido como meio para um objectivo que os pais idealizam. Não pode ser querida pelo sexo, nem pela ausência de doença. Uma criança não é uma 'encomenda'. Uma criança é um fim em si mesma, com um destino que ela própria moldará e construirá.
Um filho não é um direito dos pais, é um dom, que se recebe e se ajuda a crescer.
Este é um amor que conduz para uma liberdade responsável; é incondicional, e tudo perdoa. Deve existir e manifestar-se desde o útero materno.
Direito a que os pais se amem. - Não há alegria maior, e maior factor de resiliência para o crescimento de uma criança, do que encontrar amor, estabilidade e ternura entre os seus pais.
Direito a que os puxem. - a serem orientados e corrigidos com atenção e sentido de oportunidade, sempre associando a correcção a um laço de ternura e de confiança. A paciência com que os pais orientam e acreditam nos filhos são as sementes da resiliência que virão a ter.
Foi ainda mencionada a importância de cultivar nos casais novos, o sentido profundo da paternidade, que é de co-responsabilidade. Mais do que 'o direito individual a ser feliz', um amor fecundo: aberto aos outros e à transformação da sociedade, aberto aos filhos como dom.
É pois importante analisar os casos em que as crianças podem estar ofendidas nestes direitos fundamentais. Foram sendo mencionados alguns, como a preferência jurídica pelos pais biológicos, nem sempre os que mais estimam a criança, a selecção de embriões pré-implantação para evitar filhos doentes ou até de um determinado sexo, a doação de esperma de dadores seleccionados para ter filhos com determinadas características físicas ou intelectuais; a paternidade que vê os filhos como 'aquisições' para realização pessoal, ou que descuida a sua educação como pessoa não orientando com regras firmes e construtivas.
Estas foram algumas notas de uma noite cheia, em todos os sentidos!
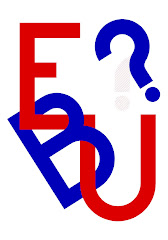
2 comentários:
Que pena não ter ido!
Ou que resumo tão bom!
Obrigado.
O Dia da Mãe
José António Saraiva
Sol, 09 Maio 09 12:00 AM
Um destes dias, quando passava de carro na Avenida da Índia (que continua a 24 de Julho para o lado de Algés), cruzei-me com um cartaz onde se lia: «Ofereça um sonho a quem já lhe deu tudo». Não percebi imediatamente do que se tratava. Só passados uns segundos (desculpe o leitor a minha falta de perspicácia) concluí o óbvio: que era um cartaz a apelar ao consumo no Dia da Mãe.
Confesso que sempre embirrei com os ‘dias’ disto e daquilo. Porque se transformaram em meras oportunidades de negócio. O seu significado inicial perdeu-se. O que prevaleceu foi o apelo ao consumo. E, não tendo eu nada contra os comerciantes, que têm de vender os seus produtos, também não gosto de ser tomado por tolo. Não gosto que me ‘levem’ com este tipo de publicidade primária, que apela a sentimentos respeitáveis para levar os tansos a gastar dinheiro.
O dia da Mãe existe há muito. Lembro-me dele em criança – e não me recordo de haver nessa altura outros ‘dias’ dedicados ao que quer que fosse.
Nessa época, a ‘Mãe’ era uma referência permanente. A quadra de Heloísa Cid era constantemente citada:
Com três letrinhas apenas
Se escreve a palavra Mãe
Que é das palavras pequenas
A maior que o mundo tem.
Os livros da instrução primária continham inevitavelmente meia dúzia de textos dedicados à Mãe. Pode até dizer-se que havia um ‘culto da Mãe’, que estaria aliás ligado à própria ideologia do regime, que valorizava a família.
Homenageando a Mãe, celebrava-se a maternidade, a fonte da vida, o papel da mulher como progenitora. Assim, no dia consagrado à mãe, os filhos homenageavam quem lhes tinha dado o ser – e os maridos homenageavam as mulheres, que eram as mães dos seus filhos.
Esta celebração também era, implicitamente, uma espécie de apelo à conservação da espécie humana. Sem maternidade não há futuro. Se de um dia para o outro as mulheres se recusassem a ter filhos, a geração seguinte já não existiria. A espécie humana acabaria aí.
Essa homenagem dos filhos às mães e dos maridos às mães dos seus filhos começou, com a passagem do tempo, a traduzir-se quase exclusivamente na oferta de presentes. Era o mais prático, o mais cómodo, não exigia muito esforço. Gostasse-_-se mais ou menos da mãe ou da mulher, passava-se por uma loja e comprava-se um ramo de flores, uma caixa de chocolates, um perfume ou mesmo uma jóia (no caso dos mais abastados) e o problema ficava resolvido. A missão estava cumprida.
E assim os comerciantes passaram a olhar para a data com gula. Não era oportunismo – era o aproveitamento natural de uma boa oportunidade.
E daí ao passo seguinte foi um pulo. Quando o Dia da Mãe se destacou como uma boa fonte de receitas, os comerciantes não puderam deixar de pensar: e por que não um Dia do Pai? Seria mais uma oportunidade para vender presentes... E atrás deste veio o Dia dos Namorados. E depois o Dia da Criança. E todos os dias nascem ‘dias’ disto, daquilo e daqueloutro.
De dia dedicado à figura materna, à pessoa que nos dá o ser, à preservação da espécie humana, passou-se a dia dedicado ao consumo. Dia em que o consumo se tornou quase obrigatório, porque oferecer prendas nessa ocasião tornou-se uma obrigação.
O curioso é verificar que este apelo do consumo no Dia da Mãe corresponde a hábitos que estão nos antípodas daquilo que levou à criação desse ‘dia’. É que a sociedade de consumo, longe de ser amiga da natalidade, é sua inimiga figadal.
Há uns dias, uma mulher madura, próxima da minha família, dizia: «Tenho seis filhos mas não me importava de ter 12. Os meus filhos são a minha fortuna».
Ora esta pessoa ainda pertence claramente à sociedade pré-consumista. Considera os filhos um bem, uma fonte de riqueza. Sucede que, para as pessoas apanhadas na rede da sociedade de consumo, a fortuna não são os filhos mas os objectos.
Quantas vezes já não ouvimos um casal dizer: «Nós só teremos filhos quando já tivermos tudo o que precisamos em casa: mobília, televisores, leitores de CD e DVD, máquinas de lavar louça e roupa, e – claro – automóveis para ambos, para já não falar das viagens que queremos fazer a dois»?
Os filhos vêm, portanto, no fim. Depois de os casais terem tudo aquilo de que precisam e de terem gozado tudo o que queriam gozar. Claro que às vezes, quando já se tem tudo e a ocasião chega, é demasiado tarde. E outras vezes a ocasião nunca chega.
Vemos assim como o consumo, hoje, está frequentemente contra a natalidade. E isto ainda torna mais irónico comemorar-_- se o Dia da Mãe acorrendo às lojas, comprando objectos muitas vezes inúteis, gastando dinheiro.
INDO um pouco mais longe, podemos dizer que esta civilização que construímos está contra a natalidade – e prova disso é que em grande parte do mundo civilizado a população está a diminuir.
O egoísmo urbano, as casas pequenas, o facto de as mulheres casarem cada vez mais tarde, a tal necessidade de consumir muito deixando pouco dinheiro disponível, até o culto do corpo – tudo isso são entraves à procriação.
Há anos, a namorada de um conhecido político dizia que não queria ter filhos para «não estragar o corpo».
Portanto, se para uma certa mentalidade tradicional, pré-capitalista, os filhos são a principal fortuna, para a geração da sociedade de consumo os filhos são uma despesa e um estorvo.
Estamos, assim, perante duas visões opostas do Dia da Mãe.
No espírito de quem o instituiu, era uma homenagem à maternidade – e um incentivo para as mulheres terem filhos, assegurando o futuro da nossa espécie; no espírito desta civilização que vive do consumo, é uma oportunidade para se vender mais, para se consumir mais, para se pensar menos nas pessoas e mais nos objectos.
E estas duas visões, além de opostas, são inconciliáveis. Os filhos são uma riqueza ou uma fonte de empobrecimento? Uma alegria ou um estorvo? Devem vir no princípio da vida em comum ou só quando já se tem tudo?
É CURIOSO, ainda, verificar como estes temas também se foram politizando.
Quem está do lado da natalidade, hoje, é ‘da direita’. As famílias numerosas são vistas como ‘fenómenos’ de direita. Porquê? Julgo que o motivo está na luta pela libertação da mulher. Em certos círculos, a maternidade é vista como uma escravidão. A recusa dos filhos tem pois em vista arrancar as mulheres às grilhetas do lar e torná-las independentes. Independentes dos maridos, dos filhos, preparadas para ter uma vida própria.
É também essa a razão pela qual a esquerda cultivou uma ‘cultura da morte’ – propagandeando tudo o que constitui obstáculo à maternidade, como a pílula, o preservativo (não por causa da sida mas com o objectivo de não engravidar), as técnicas de contracepção, o aborto.
Mas será esse o caminho? Será essa a independência desejável?
É certo que o facto de uma mulher ter muitos filhos constitui em jovem uma prisão. E aí terá de optar entre os filhos e outras comodidades. Mas na idade madura não existem dúvidas. É evidentemente melhor para uma mulher ter uma família, filhos, eventualmente netos, do que viver só, remoendo solitariamente os seus problemas e angústias. Em jovem uma mulher com filhos será mais dependente, terá mais prisões, não poderá consumir tanto como uma mulher sozinha nem – se calhar – apostar tanto na carreira. Mas na idade madura tudo se apresentará ao contrário.
É este balanço a fazer.
VOLTANDO ao tema central, o Dia da Mãe mudou de significado.
De homenagem à mulher e à maternidade, passou a ser um dia dedicado ao consumo. E muitos jovens acham que para poderem consumir aquilo que querem têm de abdicar de ter filhos. É este um dos grandes dilemas da nossa época. Por isso, na maior parte das regiões onde a sociedade de consumo se instalou, a população está a diminuir. Por mim, não tenho dúvidas: há que consumir menos e dar à Humanidade mais crianças. Mas sei que estou em minoria.
Enviar um comentário